
Espelho do Mundo traça a evolução das artes visuais através do tempo e do espaço, derrubando fronteiras entre tribos, países e religiões, oferecendo-nos uma análise – transversal e intercultural – da diversidade das obras de arte e do modo como estas podem relacionar-se entre si ou mesmo enraizar-se umas nas outras e nos respectivos contextos sociais e políticos.
Os seres humanos contam histórias, e os seres humanos fazem objectos para fascinar os olhos. Por vezes, estas histórias dizem respeito a esses objectos. Este tipo de narrativa, a que se chama história de arte, nasce do desejo de alguém imaginar como seria viver numa outra época, e de se surpreender com o que essas mãos fizeram. Os historiadores de arte procuraram também explicar por que motivo os objectos são feitos de diferentes maneiras, consoante a época e o lugar. É isso que este livro pretende fazer.
Porém um relato deste tipo tem uma dificuldade inerente. Uma obra de arte procura captar e prender a nossa atenção: uma história de arte impele para a frente, desbravando o caminho através dos territórios da imaginação. Numa história de arte de âmbito geral, como esta, a tensão pode ser constante. A cada passo, o narrador e o ouvinte sentirão o desejo de ter um pouco mais e olhar por mais tempo.
Porquê então insistir neste modelo? Vivemos sufocados por imagens. Em todo o mundo, ruas e ecrãs oferecem um amontoado de informação visual diverso e desconexo. Somos confrontados com uma amálgama de citações artísticas – Japão do séc. XIX, França do séc. XIII, Roma do séc. XVI, Austrália aborígene – e seria bom conhecer o vocabulário necessário de onde veio o quê. E também seria bom compreender a sua gramática. Como se relacionam entre si as imagens? Como se enraízam na experiência alheia? O que temos em comum com os seus autores?
Perguntas como estas geram histórias, e não certezas científicas. A história que se segue é contada por alguém, na Inglaterra do início do séc. XXI, que tenta abarcar milénios de confecção de objectos em seis continentes, esperando que, nessa base, o leitor possa continuar as suas próprias histórias. É mais uma introdução geral a objectos e temas da história da arte global do que um conjunto de conclusões acerca delas. Não pretendo definir ou redefinir o que constitui a arte, mas descreve r a sua gama de conteúdos correntemente aceite. O objectivo é mais a amplitude do que a profundidade, a abertura do que o rigor.
Porém, o método desta obra poderia ser considerado relativamente minucioso. A narrativa será urdida em torno de objectos cuja reprodução me parece surtir um bom resultado na página. A arte não se resume a uma questão de imagens compactas e fáceis de enquadrar, embora o leitor possa ter essa impressão aqui. Neste aspecto, tenho de admitir um preconceito pessoal.
Empreendi esta tarefa depois de uma vida inteira a pintar. Como tal tenho o hábito de estar numa sala perante um dado objecto que, espero, venha ater ter uma vida e uma fala própria. Nesta obra, encaro as imagens da mesma maneira: o tipo de arte sobre a qual ela incide é menos o que nos rodeia – um ambiente, edifícios, decoração, utensílios, trajes, adornos – do que aquilo com que nos confrontamos, desde a pintura até às estatuetas e monumentos. A imobilidade de cada imagem introduz outra limitação à discussão.
Ao escrever este relato, trabalhei segundo três regras gerais. Primeiro, se não houver maneira de mostrar uma coisa, mais vale não a referir. Escolher algo como trezentas e cinquenta obras para abarcar a história de arte mundial significa um exercício de equilíbrio difícil. Muitos ficarão decepcionados com o que ficou de fora; outros, aborrecidos por eu citar demasiados nomes, sem lhes dar um rosto. Quando se revelou imprescindível referir o nome de alguma figura ou fenómeno importante que não podem ser ilustrados, optei por uma politica de “parece-se bastante com”. Noutros casos, preferi ignorar o que não posso apresentar.
Segundo, manter a sequência cronológica. Esta directiva vantajosa para o leitor nem sempre se revelou possível em absoluto, pois a análise oscila entre um país e outro, mas espero que isso, se funcionar, dê uma perspectiva dos contrastes de região para região, bem como das afinidades entre culturas.
O meu título, Espelho do Mundo, indicia a terceira das minhas premissas. Entendo a história da arte como uma moldura dentro da qual vemos continuamente reflectida a história universal em toda a sua amplitude – e não como uma janela que se abre para um reino estético independente. Admito que os registos das alterações artísticas estão relacionados com registos de alterações sociais, tecnológicas, politicas e religiosas, por mais invertidos ou reconfigurados que se mostrem estes reflexos.
Os espelhos só podem funcionar com a luz que recebem, embora possam mostrar-nos as coisas de um modo diferente. O meu título indica também o que quero crer – que as obras de arte podem revelar realidades de outro modo invisíveis e actuar como molduras da verdade. Contudo, é sobretudo o modo como são feitos esses objectos, e não o seu estatuto último, que irá dominar a história. A principal razão por que me interesso pela história de arte é o facto de ela parecer tornar-me mais próximo de certas coisas extraordinárias e das pessoas que as fizeram.
Perguntas, confluências
Europa, 1909-1914
Porque na realidade, a arte consiste em objectos elaborados de maneira requintada, não é verdade? Objectos que demonstrem o seu valor intrínseco: não é isso que o mercado procura? Assim, todo o artista deveria criar um nicho para produtos profissionais, fosse qual fosse o seu modo de expressão.
A “imitação da natureza”, essa velha receita europeia para a pintura, deixara de ser relevante.
As doutrinas da “nova era” ganharam ímpeto e maior visibilidade com a chegada do séc. XX. Por volta de 1910, estavam em marcha muitas incursões na música visual pura, na “abstracção”, entre os artistas da Europa Ocidental e Oriental – o Checo Frantisek Kupla e o Lituano Mikalojus Ciurlionis, para mencionar apenas dois. O momento de ruptura de Kandinski, como ele próprio o descreve, ocorreu quando uma noite entrou no estúdio e viu em cima do cavalete uma “imagem da indescritível e incandescente beleza que não representava nenhum objecto identificável”. Não reconhecera uma das suas vibrantes paisagens, que se encontrava virada de lado. Desse momento em diante, deduziu Kandinski, a pintura podia passar sem a representação. A elegância visual que impregna composição VII a sua obra principal de 1913, inspira-se indubitavelmente nos ornamentos folclóricos Russos, com as suas encantadoras cores vivas, não obstante, insistiu ele, todos os elementos ditados pelo espírito, e estavam repletos de intenção simbólica.
O mundo visível não se evaporava simplesmente nesta nova arte. As suas essências haviam sido destiladas e libertadas, como fórmulas com as quais se podia construir um novo universo pictórico. Elas não eram senão aquelas coisas que o olhar adora fazer: reconhecer contrastes, discernir imagens e formas limitadas, vaguear, focar e retorcer, mergulhar nas intensidades da cor, precipitar-se e saltar para o lado. Durante um período concentrado de quatro dias, o pincel de Kandinski agitou-se sobre a enorme tela de 3 metros, com a alegre inocência de uma abelha a explorar uma flor.
Aquém da visão, além da visão
Outras iniciativas dos anos vinte reflectiram o construtivismo Russo. Na Holanda, formou-se um grupo de desenho de vanguarda ao redor da revista De Stiff em 1917, enquanto na Alemanha Walter Gropius criou a seminal de desenho progressista e social quando fundou a escola conhecida como a Bauhaus em Weimer em 1912. Em ambos projectos participaram pintores. Piet Mondrian foi um dos membros mais importantes do grupo Holandês; como outros muitos visitantes de Paris dos anos dez, este paisagista e teosofo havia-se inspirado nos experimentos dos cubistas. Do que havia feito Picasso e Braque sugeria um podia analisar sistematicamente as pistas que nos dava a visão. Se dispôs a recortar os componentes das imagens das suas paisagens tal como Brancusi recortava suas figuras, e com intenção parecida: quanto mais perto se está da simplicidade, mais se aproxima de um ideal espiritual. Em 1920, ficou-se com uma gramática de signos absolutamente mínima: linhas verticais, linhas horizontais e cores primárias. A sequência de explorações que o levou a esta abstracção parecia proceder com uma lógica redutora inexorável.

A partir desse momento o único caminho para a frente consistia em começar a construir de novo. Na Composição I: com vermelho, negro, azul e amarelo de 1921, Mondrian pedia ao olho que se centrara na sua própria capacidade para julgar as relações e os equilíbrios, e em seu próprio desejo de claridade. Inicialmente, o exercício parece vigoroso, refrescante, deslumbrantemente frio (ressurge esse velho gosto Holandês pela austeridade que vimos anteriormente em Vermeer). E logo astutamente, começa a conquistar. O rectângulo fechado no centro e seu primo maior no canto superior esquerdo dirigem a dança dos espaços, e tudo parece girar à sua volta, como se estivessem catalisando uma reacção química, uma explosão de ordem. Os vermelhos, negros e amarelos abrem-se ao mundo mais além do bordo do quadro, projectando o meio redesenhado que lhe gostava sonhar a De Stijl fazia os espaços indefinidos que estão fora. Talvez a abstracção fosse na realidade um paralelismo recém-criado com a pintura figurativa, um modo mais potente de induzir ilusões.
A Bauhaus, na Alemanha, pretendia conseguir uma honestidade progressista e estabeleceu normas para um desenho de linhas limpas, ergonómicamente eficiente que seria imitado em todo o mundo. No entanto a sua história interna, ao longo de 12 anos de funcionamento e das mudanças de localização, oscilou por causa das tormentosas tensões entre a série de carismáticos inovadores que ali se encontravam. Um deles foi Vasily Kandinsky, que se uniu a eles com um amigo que havia conhecido em Munique anteriormente à guerra, Paul Klee. Klee – uma presença seca e obstinada o pessoal – levou a cabo uma honrada investigação visual de enormes implicações. Daria às aspirações democráticas da escola um nível totalmente novo de superação.
Paul Klee, Máquina de Chilrear de 1922
Como Kandinsky, a Klee interessava-lhe relacionar a pintura com a música, mas trouxe uma inteligência mais analítica ao tema. Tal como Mondrian, Klee separava e isolava os componentes fundamentais da realização de uma pintura. Mas nas suas mãos convertiam-se numa caixa de joguetes. Jogava, testando muitas coisas sem limites. Nos seus desenhos e aguarelas, o pensamento lógico académico estendia uma mão e comungava com as anomalias da imaginação solitária que descobria dignidade nos rabiscos e um poder ressonante no frágil e no trémulo. As investigações de Klee iam a par com as da psicologia, que era uma ciência em expansão. A partir de 1900 em diante, os investigadores haviam aberto os olhos à arte infantil e dos doentes mentais. Uma espécie de empatia recorre o encanto louco de um experimento a caneta e aguarela como a Máquina de Chilrear; em certo sentido, qualquer um que se arrisque a pôr a sua imaginação sobre o papel, quer seja habilidoso ou não, está arriscando-se ao absurdo. O título contem o que Klee se havia encontrado a si mesmo fazendo: um aparelho geométrico que floresce organicamente, estalando numa canção. De facto, esta folha de 1922 instala-se com uma reciprocidade entre o duro e o mole que havia começado a ressonar através do campo da arte “avançada”. É um eco inocente do trabalho mestre muito mais amplo, infinitamente mais frio do absurdo sexual mecânico a que Duchamp dedicou a sua ingenuidade entre 1915 e 1923, o chamado Grande Vidro, um dos grandes buracos negros que tudo absorve da interpretação da arte moderna.
Mondrian e Klee, com o seu desejo de reeducar o olhar, parecem pôr em dúvida toda a possibilidade de pintar com base na observação


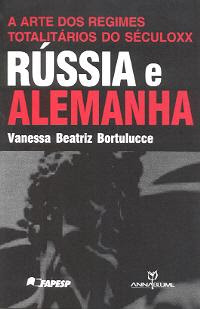


 156, Vasily Kandinsky, Pintura com Mancha vermelha, 1914, Musée National d' Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris.
156, Vasily Kandinsky, Pintura com Mancha vermelha, 1914, Musée National d' Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris.




