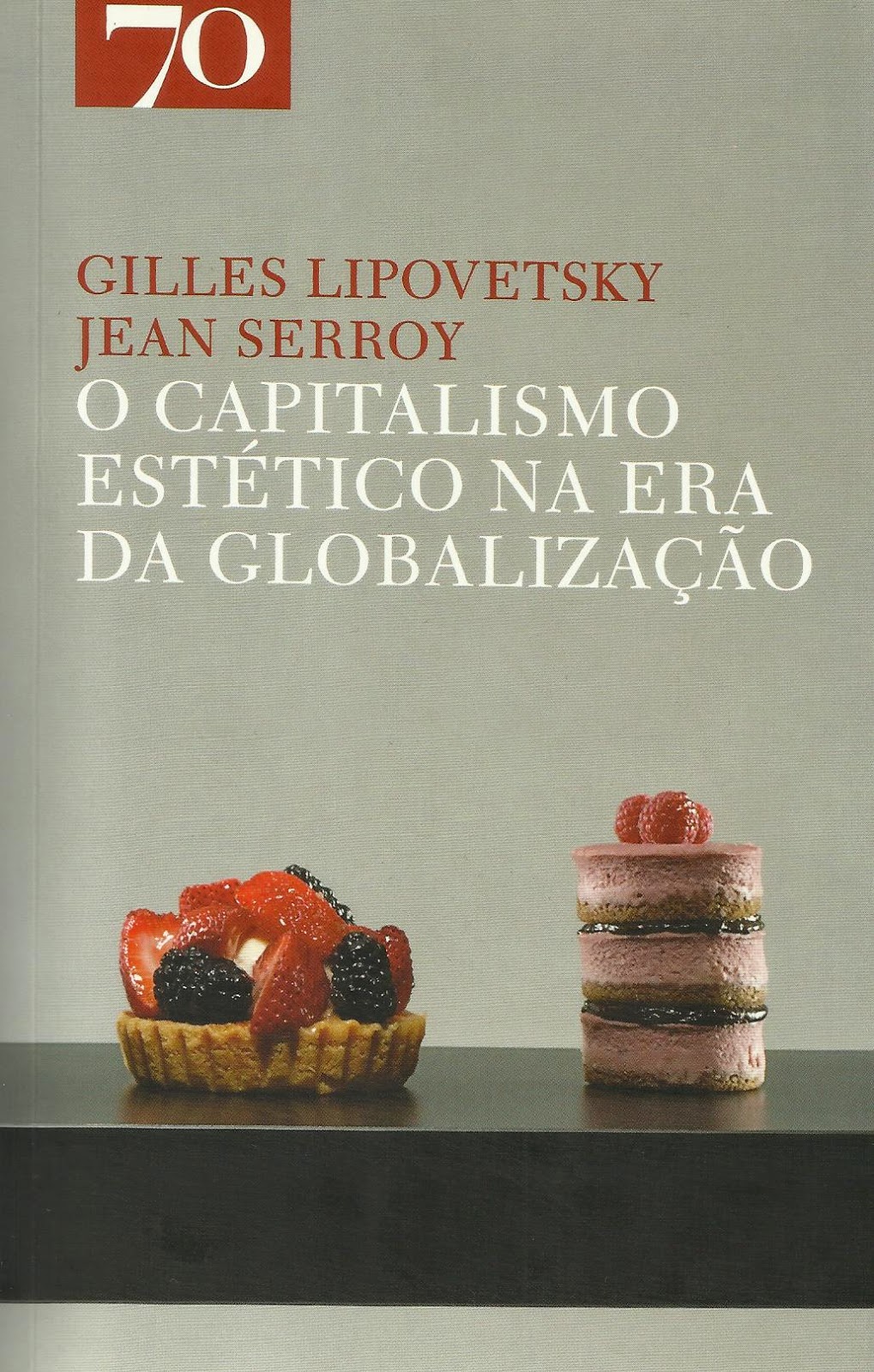O terceiro grande momento
histórico que organiza as relações da arte e da sociedade corresponde à idade
moderna no Ocidente. Encontrando a sua plenitude a parir dos séculos XVIII e
XIX, coincide com o desenvolvimento de uma esfera artística mais complexa, mais
diferenciada, libertando-se dos antigos poderes religiosos e nobiliários.
Enquanto os artistas se emancipam progressivamente da tutela da Igreja, da
aristocracia e, depois, da encomenda burguesa, a arte impõe-se como um sistema
de alto grau de autonomia ao possuir as suas instâncias de seleção e de
consagração (academias, salões, teatros, museus, comerciantes, colecionadores,
editoras, críticos, revistas), as suas leis, valores, e os seus próprios
princípios de legitimidade. À medida que o campo da arte se autonomiza, os
artistas reivindicam em voz alta uma liberdade criativa para obras que apenas
têm de prestar contas a si próprias e que deixam de se vergar aos pedidos que
vêm do “exterior”. Uma emancipação social dos artistas muito relativa, na
medida em que é acompanhada por uma dependência de um novo género, a
dependência económica em relação às leis do mercado.
Mas enquanto a arte
propriamente dita evidência a sua orgulhosa soberania no desprezo pelo dinheiro
e no ódio pelo mundo burguês, constitui-se uma “arte comercial” que, voltada
para o lucro, para o sucesso imediato e temporário, tende a tornar-se um mundo
económico como os outros ao adaptar-se à exigência do público e ao oferecer
produtos “sem riscos”, de obsolescência rápida. Tudo opõe estes dois universos
da arte: a sua estética, os seus públicos, assim como a sua relação com o
“económico”. A idade moderna organiza-se na oposição radical entre arte e
comercial, cultura e industria, arte e divertimento, puro e impuro, autêntico e
Kitsch, arte de elite e cultura de
massas, vanguardas e instituições. Um sistema de dois modos antagónicos de
produção, de circulação e de consagração, que se desenvolveu no essencial
dentro dos estritos limites do mundo ocidental.
Esta configuração social
histórica traz consigo uma reviravolta geral dos valores, arte investida de uma
missão mais alta do que nunca. No fim do século XVIII, Schiller afirma que é
pela educação estética e prática das artes que a humanidade pode avançar para a
liberdade, para a razão e para o Bem. E para os românticos alemães, o belo, via
de acesso ao Absoluto, é posto, com arte, no cume da hierarquia dos valores. A
idade moderna constitui o quadro no qual se efetuou uma excecional sacralização
da poesia e da arte, únicas reconhecidamente capazes de exprimir as verdades
mais fundamentais da vida e do mundo. Enquanto, no seguimento do criticismo
kantiano, a filosofia deve renunciar à revelação do Absoluto e a ciência deve
concentrar-se com enunciar as leis da aparência fenoménica das coisas,
atribui-se à arte o poder de fazer conhecer e contemplar a própria essência do
mundo. Agora, a arte é posta acima da sociedade, traçando um novo poder
espiritual laico. Não uma esfera destinada a dar o consentimento, mas o que
revela as verdades últimas que escapam à ciência e à filosofia: um acesso ao
Absoluto, ao mesmo tempo que um novo instrumento de salvação. O poeta entra em
concorrência com o padre e toma o seu lugar em matéria de revelação última do
ser: a secularização do mundo foi o trampolim da religião moderna da arte.
Deve acrescentar-se, no
entanto, que a sacralização da arte realizada pelo romantismo e pelo simbolismo
foi seguidamente combatida ferozmente por diversos movimentos vanguardistas,
como o construtivismo, o dadaísmo e o surrealismo.
Sacralização da arte que se
ilustra tão bem na invenção e desenvolvimento da instituição dos museus. Ao
extrair as obras do seu contexto cultural de origem, ao cortar o seu uso
tradicional e religioso, ao não limitá-las ao uso privado e à coleção pessoal,
mas oferecendo-as ao olhar de todos, o museu encena o seu valor especificamente
estético, universal e intemporal; transforma objetos práticos ou culturais em
objetos estéticos para serem admirados, contemplados por si próprios, pela sua
beleza que desafia o tempo. Lugar de revelação estética destinado a fazer
conhecer obras únicas, insubstituíveis, inalienáveis, o museu tem a
responsabilidade de as tornar imortais.
Enquanto dessacraliza os
objetos culturais, dota-os, por outro lado, de um estatuto quase religioso, as
obras-primas devem estar isoladas, protegidas, restauradas, como testemunhos do
génio criativo da humanidade. Espaço de adoração consagrado à elevação
espiritual do público democrático, o museu está marcado por ritos, solenidade,
por um certo ambiente sacro (silencio, recolhimento, contemplação): impõe-se
como um templo laico da arte.
Sacralização do museu que ao
mesmo tempo desencadeou a ira das correntes de vanguarda denunciando a
instituição simbólica pela excelência da arte antiga a destruir: “Nós queremos
demolir os museus, as bibliotecas (…). Museus cemitérios!...” (Filippo Tommaso Marinetti,
“Manifesto Futurista” em Le Figaro,
de 1909).
A arte supostamente
proporciona o êxtase do infinitamente grande e do infinitamente belo, faz
contemplar a perfeição, ou seja, abre as portas da experiencia do absoluto, de
algo para além da vida comum. Tornou-se o lugar e o próprio caminho da vida
ideal outrora reservada à religião. Nada é mais elevado, mais precioso, mais
sublime do que a arte, a qual permite, graças ao esplendor que produz,
suportara a hediondez do mundo e a mediocridade da existência. A estética
substituiu a religião e a ética: a vida apenas vale pela beleza, diversos
artistas afirmam a necessidade de sacrificar a vida material, a vida política e
familiar à vocação artística: trata-se, para eles, de viver pela arte,
consagrar a sua existência à sua grandeza.
Ao afirmar a sua autonomia os artistas
modernos insurgem-se contra as convenções, investem incessantemente em novos
objetos, apropriam-se de todos os elementos do real para fins puramente
estéticos. Impõe-se o direito de tudo estilizar, de tudo transmutar em obra de
arte, sejam o medíocre, o trivial, o indigno, as máquinas, as colagens
resultantes do acaso, o espaço urbano era da igualdade democrática tornou possível
a afirmação de igual dignidade estética de todos os temas, a liberdade soberana
dos artistas de qualificar como arte tudo o que criam e expõem. Perante a
soberania absoluta do artista já não há realidade que não possa ser
transformada em obra e perceções estéticas. Depois de Apollinaire e Marinetti,
os surrealistas lançam o lema “A poesia está em toda a parte”. Ao romper com
toda a função heterogénea da arte, ao afirmar-se na transgressão dos códigos e
das hierarquias estabelecidas, a arte moderna pôs em marcha uma dinâmica de
estetização sem limites do mundo, qualquer objeto podia ser tratado de um ponto
de vista estético, ser anexado, absorvido na esfera da arte somente por decisão
do artista.
Mas a ambição dos artistas modernos
foi muito mais além do horizonte exclusivamente artístico. Com as vanguardas
nasceram as novas utopias da arte, tendo esta como objetivo último ser um vetor
de transformação das condições de vida e das mentalidades, uma força política
ao serviço da nova sociedade e do “homem novo”. Em oposição à arte pela arte e
ao simbolismo, Breton declara que é “um erro considerar a arte como um fim” e
Tatline proclama a: “A arte morreu! Viva a arte da máquina” ao recusar a
autonomia da arte, não reconhecendo nenhum valor à estética decorativa “burguesa”,
os construtivistas proclamam a glória da técnica e o primado dos valores
materiais e sociais sobre os valores estéticos. O belo funcional deve eliminar
o belo decorativo e as construções utilitárias (imoveis, vestuário, mobiliário,
objetos…) substituir-se ao luxo ornamental, sinónimo de esbanjamento decadente.
A arte já não deve ser separada da sociedade e apenas um agradável passatempo
para os ricaços: a estética do engenheiro deve poder reajustar num “design total” a integralidade do
ambiente quotidiano dos homens. Já não os projetos de embelezamento do quadro
de vida, mas “a máquina para habitar” (Le Corbusier),
respondendo às necessidades práticas dos homens e a custo mínimo. A era moderna
vê assim afirmar-se, por um lado, a “religião” da arte, por outro, um processo
de desestetização produzido muito particularmente pela arquitetura e pelo
urbanismo, que condenam o ornamento e o embelezamento artificial do edifício,
preconizando construções geométricas totalmente despojadas, a substituição da
composição harmoniosa dos jardins clássicos por “espaços verdes”.
Ao mesmo tempo, em diversas
correntes surge um novo interesse pelas artes ditas menores. Enquanto se multiplicam
as críticas dirigidas à indústria moderna – acusada de disseminar a fealdade e
a uniformidade – florescem os projetos de embelezamento da vida quotidiana de
todas as classes, a vontade de introduzir a arte por toda a parte e em todas as
coisas pela regenerescência e difusão das artes decorativas. De Ruskin à Arte
Nova, William Morris ao movimento Arts & Crafts, e, depois, à Bauhaus, não faltam
correntes modernistas que denunciaram “a conceção egoísta da vida de artista”
(Van de Velde), a distinção nefasta entre “Grande Arte” e “artes menores”,
preconizando a igual dignidade de todas as formas de arte, uma arte útil e democrática
sustentada pela reabilitação das artes aplicadas, das artes industriais, das
artes de ornamentação e de construção. Já não se quer quadros e estátuas
reservados a uma classe social alta, mas uma arte que investe no mobiliário,
nos papéis de parede, nas tapeçarias, nos utensílios de cozinha, nos têxteis,
nas fachadas arquitetónicas, nos cartazes. Com a época democrática, a arte
assume como missão salvar a sociedade, regenerar a qualidade da casa e a felicidade
do povo, “mudar a vida” de todos os dias: o Modern Style foi batizado por
Giovanni Beltrami como “socialismo della
Belleza”.
A estetização própria da
idade moderna seguiu, assim duas grandes vias. Por um lado, a estetização radical
da arte pura, da arte pela arte, de obras libertas de todos os fins
utilitários, não tendo outros fins senão elas próprias. Por outro, precisamente
no oposto, os projetos de uma arte revolucionária “para o povo”, uma arte útil
que se faz sentir nos mais pequenos detalhes da vida quotidiana e orientada
para o bem-estar da maioria.
Com efeito, o universo
industrial e comercial foi o principal artesão da estetização moderna do mundo e da sua expansão democrática.